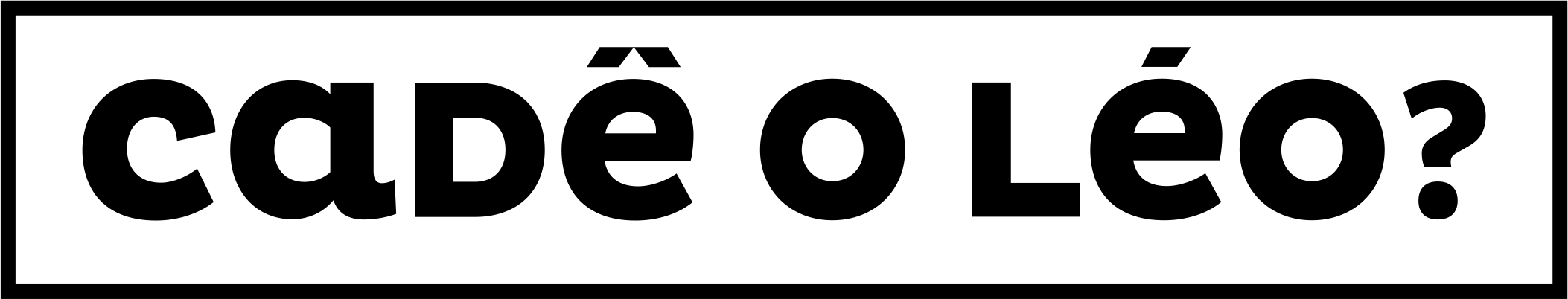Que O Hobbit é um livro infantil de menos de 400 páginas, qualquer caminhada a uma livraria próxima pode atestar. Que a adaptação cinematográfica desse romance seminal de J.R.R. Tolkien foi projetada como dois longas-metragens e se estendeu para uma trilogia, qualquer portal de notícias pode informar. E essas informações só seriam importantes em uma crítica de O Hobbit: Uma Jornada Inesperada se a análise se restringisse aos trailers e imagens de divulgação, e não pudesse contar com a observação direta do produto final. É preciso tirar esse obstáculo rançoso do caminho, pois seja a obra original o que for, é importante em vários níveis observar e interpretar o filme sem levar em consideração sua genealogia comercial.
Essencial, sim, é estabelecer as conexões da trama com O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, que em todas as mídias é a história que sucede cronologicamente os eventos de O Hobbit. Dirigido novamente por Jackson, o prólogo se passa 60 anos antes dos eventos da trilogia do Anel, e encontra o pacato hobbit Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) iniciando uma aventura com Gandalf, o Cinzento (Ian McKellen). O mago pretende ajudar os anões, liderados por Thorin Escudo-de-Carvalho (Richard Armitage), a reconquistar seu lar do monstruoso dragão Smaug. Reticente, Bilbo acaba embarcando na viagem e se envolve em diversas aventuras, inclusive naquela que mudará o destino de toda a Terra Média: o encontro com a criatura Gollum (Andy Serkis), que possui o nefasto Anel do Poder.
Infelizmente, o início é insatisfatório como introdução da nova trama. Se a narração em off que abre A Sociedade do Anel é um bom recurso para condensar muitos acontecimentos, a longa apresentação expositiva de Bilbo, já idoso (mais uma vez vivido por Ian Holm), não faz mais do que confundir o foco da narrativa. O hobbit narra fatos que dizem respeito a indivíduos, a uma raça, a uma história que tem outros personagens como protagonistas. A tática pode até fazer sentido, dada a conexão afetiva que Bilbo criou com os anões desterrados, mas a necessidade de exposição logo no começo do filme – uma permissão tácita, já que a narrativa ainda não se iniciou – é onerosa. Outras cenas, que retomam em flashbacks o heroico Thorin e a derrota de seu povo, reforçam quão encurralado o roteiro estava, buscando explicar toda a história e, ao mesmo tempo, evitar a repetição de recursos narrativos.
Para todos os efeitos, esse início traz uma considerável confusão que, por motivos óbvios, é resolvida apenas de forma parcial: o papel central dos anões. A falta de foco causa estranhamento quando a atenção se desvia do personagem-título por longos períodos, e mais ainda quando ele precisa ser grosseiramente recolocado em um lugar de destaque – como é o caso do clímax à beira do precipício, onde Bilbo se torna o apelo “final” para evitar uma tragédia. Tanto suas ausências prolongadas quanto suas presenças forçadas se fazem sentir, embora estas sejam muito mais incômodas e malogradas. Em algumas questões da história, esse “protagonista” é apenas coadjuvante, e sua invisibilidade de hobbit cairia bem.
Jackson, no entanto, percebe essa confusão de foco, e é particularmente feliz ao revelar por que Gandalf queria discutir certos assuntos com Elrond (Hugo Weaving), Galadriel (Cate Blanchett) e Saruman (Christopher Lee). Não se tratava apenas de um desvio do assunto principal da trama para uma terceira questão – o renascimento do mal na Terra Média, que busca reforçar o elo com O Senhor dos Anéis –, mas também de uma distração. Há outras digressões do tipo, como a apresentação de Radagast, mas esta encontra uma justificativa bem mais tosca quando o mago encontra seu colega Gandalf. Como uma perseguição se segue, e uma bastante bem feita ainda por cima, pois Jackson usa a paisagem de forma precisa para criar tensão, as primeiras cenas de Radagast não se fazem notar como o inchaço narrativo que são.
Por outro lado, o ritmo do filme não difere tanto da elogiada trilogia original, com pausas, retomadas e retardamentos na narrativa que delimitam as aventuras-dentro-da-aventura. A quantidade generosa de ação – inspirada, no mais das vezes –, a progressão cadenciada dos acontecimentos e as subtramas bem amarradas têm a mesma função de estabelecer a natureza épica da jornada. A bem da verdade, as semelhanças entre os filmes ficam na tênue linha entre a homenagem e a imitação, entre a continuidade e a repetição estética.
Os grandes avanços nas tecnologias de efeitos visuais acabam tomando a frente como principal diferencial da produção. No entanto, King Kong não foi apenas o ponto alto do trabalho de Peter Jackson: foi também uma experiência que rendeu frutos. Embora não haja espaço para muito intimismo, em oposição a King Kong, que o tinha de sobra, em O Hobbit os absurdos correm soltos, unindo o espírito fanfarrão do cineasta com a responsabilidade castradora de capitanear uma superprodução. Em relação a O Senhor dos Anéis, as cenas de ação estão mais estilizadas, pois em vários momentos Jackson se refestela nos exageros que lhe são tão naturais. O resultado são algumas imagens dignas dos Looney Toones, de uma puerilidade refrescante.
Mesmo assim, O Hobbit: Uma Jornada Inesperada é sério, tão solene quanto a trilogia anterior, e em vários momentos se faz bastante “impróprio”, seja com cenas de violência cômicas ou com referências a drogas. Nesse sentido, o filme chega aos limites de sua censura, ignorando sem cerimônia o fato de que sua fonte de inspiração é um livro infanto-juvenil e se firmando como uma adaptação curiosamente “infiel”. Peter Jackson nem sempre encontra o tom certo das cenas, resultando em pitadas de comédia desconexas e calombos de sisudez deslocada, e, como já dito, batalha para dar o foco certo a seus personagens. Em todo caso, o filme é apreciável e depreciável como a obra independente que ele tem a prerrogativa de ser.
Matéria de Pedro Costa De Biasi